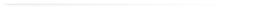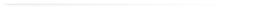Nós não sabemos se o abuso (sobretudo o de ordem sexual) será ou não um comportamento constante na nossa comunidade, nomeadamente entre os portugueses ou descendentes desta etnia.
Recordando a minha infância, não me assalta à memória ter-se falado, de forma aberta, em situações caracterizadas como sexualmente abusivas. Certamente esta forma de violência era mais comum e acontecia com mais frequência do que nós, então crianças ou adultos, pensávamos e agora, toleraríamos se delas, então, tivéssemos conhecimento.
Usando a experiência que hoje tenho, assim como a (de)formação que recebi nas diversas instituições que frequentei, direi que o abuso sexual, não apenas o circunscrito à minha terra mas a todo o país, deveria ser motivo de mais comentários e, sobetudo de longa educação. Deveria ser, mas não foi, nem é, mas esperamos que o venha a ser.
“Estamos a pensar nisso”, é uma resposta vazia de conteúdo e cheia de desculpas, que ouvimos e que significa desinteresse no assunto e desconhecimento no tema, mas ágil na linguagem política.
Este era um facto, e continuará a sê-lo. Há cerca de cinquenta anos (1966) o silêncio imposto e sobretudo os pecados ensinados e aprendidos faziam parte do que era feito e pensado. Tanto as comunidades, freguesias como as igrejas-paróquias dominadas pelos clérigos/abades, indicavam o silêncio e o pecado como técnicas eficazes aplicadas ao que era proibido e secreto. O confessionário era (e penso que o será) o lugar apontado como espaço sagrado dos segredos e do “perdão” do deus, que o padre representava, e o pecador ou vítima nisso acreditava. Para outros, mas não crentes, a vergonha ameaça e a “compra da pessoa abusada” funcionavam temporariamente para benefício do abusador, agravamento do abusado e nome das famílias (dos abusados e dos abusadores).
Como parecerá óbvio, nessa altura não conhecia todos os abusadores e abusador(as) da minha aldeia. Havia, no entanto, características que me (nos) punham de alerta. O nome familiar, o modo como o “abusador” se comportava, a sua idade e seu poder económico eram factores que me (nos) podiam pôr de vigilância. A idade, a necessidade, a desconexão e o desinteresse familiar poderiam ser usados como sinais de aceitação do poder e convite do “poderoso” pela criança, que estava mais interessada no que lhe era oferecido ou mostrado e receberia do que no que lhe pediam e convenciam a fazer. A recompensa (sonhada ou adquirida) diz-nos imenso do ato e das pessoas envolvidas e que os não envolvidos tanto criticam.
Desconheço o que uma criança pensará nessa altura, mas passará também pela sua mente as recompensas que irá obter e que secretamente transformarão o (mal) feito. Numa aldeia pequena é fácil aceitar e ver na pessoa a ingenuidade que tenta esconder a maldade sentida, o abuso de comportamentos sofridos e não tolerados e silenciados. Era um comportamento vergonhoso que ambos (e por que não, ambas) manifestavam de forma diferente. Mas (e tanto nessa altura como hoje) o silêncio e a vergonha, como já disse, não só dominavam mas eram mutualmente propostos, aceites e vividos.
Era um comportamento vergonhoso. Porém, o silêncio fazia pensar que esses acontecimentos desapareceriam, as testemunhas morreriam e o silêncio acabaria por dominar e enterrar completamente o acontecido. Era um atitude que o medo, silêncio e esconderijos alimentavam a sua existência, que era reconhecida, mas não falada.
Os atos que nos envergonham - e cada pessoa tem a sua lista real e imaginária desses actos - facilmente desapareceriam se as testemunhas também desaparecessem. Muitos dos homicídios ou inutilização de órgãos de outra pessoa (olhos por exemplo) parecem ser uma tentativa simbólica do desaparecimento das testemunhas do(s) acto(s) vergonhosos cometidos. Por isso, penso, é de acreditar nos que dizem que a vergonha é o pior sentimento que a pessoa poderá ter. É claro que estou a referir-me a uma população estatisticamente “saudável” e não a pessoas mentalmente “diminuídas”, que fazem parte de qualquer comunidade, ou agrupamento de pessoas que vivem algo de comum.
Aparentemente parece não ter havido muitos abusos sexuais se olharmos para essa aldeia construída no planalto longe do concelho (Alcobaça e do distrito Leiria) com o olhar e percepção que olhamos, ouvimos e percepcionamos o abuso conhecido, ouvido e percepcionado mas pouco divulgado, neste país.
O silêncio sobre as coisas, particularmente aquelas que tinham um estigma ou tabu guardado pela família, era um sinal educativo/familiar de cariz negativo, mas respeitado. Era um assunto que seria discutido e gozado pelos rapazes de maior idade enquanto em grupo esperavam pelo jantar, depois de um dia longo de trabalho pesado, de pouco descanso e de reduzido ordenado.
Penso que esse tipo de abuso sexual terá diminuído (ou terá sido escondido) pela pressão da vergonha comunitária, pelo aumento da educação e frequência da formação sexual e vulgarização de certo tipo de medicina “protectiva” e pela resposta e experiência familiar obtida.
No entanto, a proibição do encontro homossexual e o heterosexual emanam ainda uma mensagem que as igrejas, com raras excepções, mantêm viva e recordada. Uma grande parte dos padres (com ou sem vergonha, com ou sem experiência de abusadores de jovens sejam eles masculinos ou elas femeninas) ainda faz do abuso sexual tornado público, como um encontro pecaminoso, repudiado por Deus e condenado pela Igreja Católica. O “poder religioso” que eles manifestavam e era respeitado, dava-lhes uma certa autoridade e dignidade que tornavam o inaceitável mais aceitável, o inesperado menos esperado e o responsável menos reprovado. A evolução no ver e discutir o ato/encontro sexual, inclusivamente o abuso sexual, tem sido lento e com poucos altos e baixos que permitam nivelar e encontrar opções a que se possa recorrer. É uma necessidade não entendida que a igreja- padres tornaram mal entendida, que a família ignora e a sociedade reprime. É um assunto que ultrapassa a autoridade atribuída à Igreja, ao poder dos clérigos, mas que entra dentro do campo da chamada saúde mental.
O abuso sexual, seja ou não uma manifestação de um abuso acontecido, ou imposto, ignorado, escondido, público e criticado, é normalmente revelador mais da vontade individual do que do conhecimento da família. Por vezes está ligado a uma doença mental (e ou familiar) que foi ignorada e marginalizada durante muito tempo e que é aproveitada pelo silêncio e interpretação que pode gerar e pela facilidade com que se apresenta ao abusador.
A evocação à minha terra (Montes-Alcobaça) que não esqueço pelo que permitiu que eu fizesse, me fizesse e crescesse - e me condenou pelo que devia ter feito e não fiz - o que não era muito comum pois isso era ofício paternal - e uma vergonha no caso de acontecer.
Os comportamentos dos filhos estavam primariamente dentro do espaço educacional dos pais e só depois dos mais velhos (provavelmente representantes auto-nomeados das Comunidades). O silêncio era considerado uma forma de respeito do ponto de visto de quem o ordenava, fossem eles pais, professores ou outras autoridades. “Calou-se”, apenas significava “obedeceu”. Esquecíam-se de descobrir no silêncio que fora imposto ou ordenado e o que a aparente obediência encobria no monologar individual e silencioso.
Não era uma aldeia violenta - a minha aldeia - ainda que vivesse um desejo raramente manifesto e intolerável (mas tradicional) pelos que tinham nascido e viviam na outra aldeia e sede da freguesia.
Só conheci uma pessoa que com certa frequência trazia uma pistola à cintura. Diziam que era por ter medo. Mas, que eu o saiba, nunca a usou publicamente. A maioria teria espingardas caçadeiras (para coelhos, ou raposas) ou outras mais simples (para pássaros). Nessa altura, por volta de 1947, a posse de arma não era usada ou politizada para explicar e condenar a violência ou reafirmar o direito a ter e usar arma para defesa ou para explicar e condenar violências, assassinatos, ou outras formas de abuso e violências. Já, então, havia formas pessoais eficientes de defesa (geralmente sem armas). Havia discussões, zangas, poucas bulhas e muita amizade e respeito. Era, neste aspecto, uma comunidade, pelo menos no sentido, epistimológico da palavra.
Ter arma era manifestar o desejo não explicado de fortalecer e engrandecer a identidade pessoal-familiar. Era estar mais preparado para situações desconhecidas mas possíveis de enfrentar. Não era invulgar encontrar pelas terras, ou caminhos um animal não domesticado que se alimentava das culturas que as mãos das mulheres e dos homens (ou ambas) tinham tornado férteis e transformado em produtos alimentares. O tiro não era uma directa ameaça, mas era sobretudo uma indicação que o dono estava presente e que as sementeiras não eram para os animais. Os animais selvagens conheciam isso e ficariam gratos ao bom senso do dono da sementeira. Era, na verdade uma disputa entre dois animais, um mais inteligente e outro mais instintivo, com melhor ouvido, cheiro e visão. Era uma luta necessária. Nem sempre o reconhecido como o “mais inteligente” (o homem) ganhava a disputa. Era assim e continua assim. Os erros repetem-se até serem reconhecidos e aceites como erros que podem e devem ser alterados com muitas vantagens.