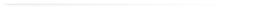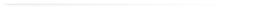Quando era criança, a distância entre Ponta Delgada e as freguesias não era só geográfica, era também social. As pessoas eram suburbanas porque simplesmente eram de “fora da cidade”. A própria designação “cidade” precedida do determinante “a” conferia-lhe a distinção de ser única, dando-lhe a impetuosidade de um universo à parte, alheio à dimensão da pacatez por que se mede a ilha.
Hoje, as distâncias esbateram-se, elevaram-se novas cidades, embora a expressão “ir à cidade” se mantenha como se Ponta Delgada fosse ainda a única da ilha. Ir à cidade, quando era miúda, era, pois, um acontecimento.
Apanhar a camioneta que nos levava por uma estrada cheia de curvas, ladeada de altos plátanos cujas copas se cruzavam, era a mesma que associava à alegria de ir buscar alguém ao aeroporto, pois não me lembro de muitos mais motivos interessantes por que íamos a Ponta Delgada. A cidade insinuava-se ao longe quando avistava os barcos na doca que me aguçavam a curiosidade, o fascínio pelo mistério sobre quais seriam os seus destinos. A chegada à cidade anunciava-se à passagem pelo estranho edifício da Finançor, na Calheta, que me lembrava um galo sentado de pescoço erguido. O apeadeiro das camionetas situava-se no largo em frente à igreja Matriz inundado pelo intenso cheiro a café dos armazéns Domingos Dias Machado, mesmo defronte, recheado de chocolates de guarda-chuva e de garrafões de vidro bojudos de bombons coloridos. O bulício da cidade aliciava-me assim como o movimento das pessoas e dos carros, as lojas sortidas, um mundo por descobrir. De mão dada com a minha mãe, lá ia eu comprar sapatos, porque era quase sempre para este fim que a acompanhava, principalmente em altura de festas. O cheiro dos sapatos novos até hoje me seduz! Quando regressava, ia ritualmente mostrá-los a casa da minha prima. Na volta para casa, era frequente encontrar o camião da carga estacionado à minha porta. Se assim acontecesse, voltava para trás, pois tinha pavor daquele camião descomunal e sinistro, de um verde-escuro assustador, a fazer lembrar os camiões do exército do tempo da II guerra mundial. O camião da carga era até o pretexto usado pela minha família quando me queria amedrontar: “se não comeres a sopa, vais no camião da carga!”
Era o meu tormento de infância. O senhor Joaquim, de cabelos brancos e de mala de cobrador ao tiracolo, que o conduzia, não adivinharia ser o bicho-papão de uma criança no Pico da Pedra. O camião fornecia as lojas do centro da freguesia, nomeadamente a do senhor Marcolino, no canto da minha casa, mercearia que era a do meu avô. Da loja do senhor Marcolino exalava um cheiro bafiento a açúcar, armazenado nas caixas de madeira, tipo baús, que era vendido avulso e enrolado num papel de embrulho castanho. As mãos do senhor Marcolino eram roxas, grossas e enganchadas pela doença. Deixava-as cair sobre o balcão como garras, visão que nunca mais esqueci. Eram, contudo, hábeis a embrulhar o açúcar, ensarilhando uma na outra as extremidades da folha de papel que fechava em cima da balança. Ao lado, a drogaria da senhora Maria dos Anjos cheirava a éter e tinha a particularidade de ter uma montra enorme onde expunha toda a sorte de deslumbrantes miudezas. Lembro-me que, no Natal, a montra era mágica: bonecas, brinquedos e luzes coloridas que piscavam, faziam-me colar o nariz ao vidro a sonhar. Nem sempre era preciso ir à cidade, pois a minha mãe entregava a lista de pedidos ao Menino Jesus ali mesmo.
Em tão pouco tempo, tudo mudou. A vida correu indiferente às ausências, cerrando portas, desvanecendo marcas, que deram lugar a memórias a preto e branco, mas amarelecidas pelo tempo. Esbateram-se fronteiras, construíram-se novas estradas sem túneis de plátanos, modificou-se a paisagem, chegaram novos protagonistas... O que se galgou no futuro perdeu-se na idiossincrasia.
Há coisas que, todavia, são imutáveis. Este novelo de vivências e de memórias permanece essencial. Procuro desvelar os seus fios para tecer o presente da mesma simplicidade. Como agora, em cada Natal, tento recuperar a magia, o encanto vivido, mas sem efeito. Já não colo o rosto à montra da vida à espera de que o sonho se transforme em realidade ou vice-versa.
Vivo agora na cidade. As coisas perderam o cheiro que costumavam ter, mas das minhas lembranças essenciais ainda exala o perfume etéreo que me guia, qual estrela na noite escura de Natal.