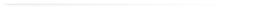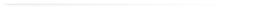Os seres humanos, em geral, gostam de alimentos e bebidas doces. Atualmente, ainda que existam diferenças de gosto conforme a região do mundo, a utilização de açúcar na alimentação, mas não só, está generalizada e parece-nos existir desde sempre. No entanto, isso não é verdade. Antigamente o doce era um prazer raro, apoiado no consumo de mel. A mudança no panorama, tornando a vida de todos mais doce, ocorreu com o açúcar de cana, que, mesmo assim, depois da sua descoberta e fabricação, foi durante muito tempo um artigo raro e de luxo, acessível apenas aos muito ricos. Só recentemente na história da humanidade se disseminou em todo o mundo.
Falar sobre o açúcar dá pano para mangas ou muitos capítulos para livros, de botânica, etnobotânica, química, gastronomia. Aqui interessa-nos perceber que foi a partir do pátio da lusofonia que ele se espalhou e adoçou as bocas do mundo.
Como Naidea Nunes evidencia na sua tese de doutoramento, o primeiro produto da cana-de-açúcar, planta originária da Papua Nova Guiné, foi o sumo ou água de cana, tendo sido os chineses os primeiros a fabricar açúcar sólido, ainda distante do grau de refinamento que hoje conhecemos, mas já uma iguaria exótica que os comerciantes árabes traziam por bom dinheiro para a Bacia Mediterrânica e a Europa Ocidental. Mais tarde desenvolveram a produção de cana e de açúcar no Norte de África, sobretudo em Marrocos. Há também quem refira terem sido os persas os primeiros a concentrar o sumo de cana por meio de fervura e a conseguir atingir um bom grau de refinamento, por volta do século VII, entrando o torrão de açúcar quase branco no comércio europeu através de Veneza, como se fosse uma especiaria, então designada “sal branco”. Terá então sido a conquista dos persas pelos árabes, no século IX, a dar-lhes o controlo da produção, que estenderam à Península Ibérica.
Havendo referências à presença de cana-de-açúcar em vários pontos de Portugal, nomeadamente Coimbra e Algarve, com a vinda de mestres de engenho genoveses, a grande investida nacional na produção e na comercialização do açúcar ter-se-á dado na Madeira, por iniciativa do Infante D. Henrique, que terá mandado vir da Sicília as plantas e os mestres especializados na produção açucareira. Em meados do século XV, cerca de vinte anos após a sua introdução, já a exportação de açúcar para vários países, considerado o melhor do mercado, era relevante nas contas nacionais. No século XVI, a sua rentabilidade era tão elevada que começou a ser oferecido para obras de assistência, para os conventos e mosteiros, para as Misericórdias e para os hospitais. Por isso os conventos se tornaram as mais afamadas instituições produtoras de doçaria em Portugal.
Da Madeira, onde o uso de engenhos d’água permitiu a produção em grandes quantidades, o açúcar foi levado para Açores, Cabo Verde, São Tomé, tendo Portugal assumido a liderança na produção mundial. Defende Orlando Ribeiro que o açúcar foi transformado pelos portugueses numa grande cultura tropical, determinante para o sucesso económico das regiões colonizadas. Aqui é preciso deixar uma ressalva importante, pois a indústria do açúcar desenvolveu-se associada ao comércio de escravos comprados em África, sobretudo no Brasil para onde se mudou o centro produtivo depois da crise do negócio na Madeira, muito por causa da doença da cana. Foi também da Madeira que Colombo levou a cana-de-açúcar para outras paragens nas Américas, tendo sido especialistas portugueses a dinamizar a sua produção.
Com o açúcar viajaram outros aspetos da cultura. Alberto Vieira faz referência a um conjunto de representações culturais, teatrais e festivas, de fusão entre a cultura europeia e a africana, que acompanharam a safra do açúcar e marcaram as culturas locais onde a cana-de-açúcar se instalou, como é o caso do “tchiloli” – representação teatral da Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carlos Magno, da autoria do madeirense Baltazar Dias – levado para S. Tomé, que ainda hoje se representa para celebrar datas importantes, ou do “bumba-meu-boi” – espetáculo folclórico de rua ligado à história do açúcar e escravatura, hoje património imaterial cultural da humanidade pela UNESCO – desenvolvido no Brasil, mas que, com as viagens de regresso, parece ter influenciado as danças de entrudo na ilha Terceira, nos Açores, que já tinham forte inspiração oriental, por ser porto na rota da Carreira das Índias.
Enquanto perdia relevo nos locais referidos, a produção de açúcar ganhava o seu apogeu no Brasil, onde se iniciou em Pernambuco, por volta de 1526, ano em que já há registos de se pagar imposto à alfândega de Lisboa. Foi por causa dessa riqueza que o Nordeste brasileiro atraiu a cobiça dos holandeses – numa altura em que Portugal perdera a sua independência para os Filipes de Espanha (1580-1640) –, que ocuparam as zonas onde se encontravam os engenhos do açúcar, sem outras incursões no território. Gilberto Freyre evidencia, na sua obra Açúcar: Uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil, duas realizações culturais de grande relevo ligadas à produção de açúcar: a arquitetura das casas-grandes de engenho de açúcar e a influência na culinária, com especial destaque para a doçaria, onde se fundiram produtos locais e açúcar para, a partir da tradição portuguesa e da inventividade de nativos e africanos, surgir uma vasta panóplia de novas iguarias. O próprio termo português ‘marmelada’, originalmente relativa à conserva de marmelo, passou para as línguas francesa e espanhola, mas também para a língua inglesa, neste caso a partir do Brasil, para designar conservas de diferentes frutas.
O açúcar foi determinante na estratégia de promoção da diplomacia e dos interesses portugueses nas viagens marítimas pelo mundo fora. Os doces faziam sucesso quando eram oferecidos aos altos dignitários estrangeiros e granjeavam favores e respeito, sendo presentes muito valorizados. Em Melinde, Vasco da Gama enviou ao rei local peras em conserva, explicando ao servo do rei como se comiam, divididas em quartos, com um garfo de prata. Depois ofereceu ao rei um diverso conjunto de conservas servidas em pratos de prata, enquanto o vinho era servido em recipientes dourados. A estratégia de oferecer açúcar ou doces aos altos dignitários nas viagens marítimas de Gama até à Índia continuou com outros navegadores.
Uma peça central na política do reino de Portugal, para fortalecer alianças nos novos mundos e a edificação de uma rede de apoio ao comércio, foi a concessão de privilégios aos “casados” – assim ficaram conhecidos os portugueses que casavam com mulheres nativas, e depois seus descendentes –, em particular a isenção do pagamento do imposto sobre o açúcar.
No seu doutoramento na Universidade de Adelaide, A Culinary History of the Portuguese Eurasians: The Origins of Luso-Asian Cuisine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a canadiana Janet Boileau destaca como a mistura que originou os povos luso-asiáticos criou toda uma nova culinária, resultante da adaptação aos produtos disponíveis localmente, nomeadamente na doçaria com a produção de confeitos, conservas de frutas ou geleias, que se ofereciam nas visitas, usavam na medicina ou comercializavam de porto em porto na região. Um dos aspetos que pode ser surpreendente para muitos é perceber que os mundialmente famosos chutneys (do hindi chatni), assim designados pelos ingleses, que se seguiram aos portugueses na região de Bengala, tiveram origem nesta forma de conservar pelo açúcar numa Índia que antes o fazia pela salga. Não esquecer ainda que a malagueta (piripiri), que deu o toque final aos chutneys (e a toda a culinária indiana), para lá foi levada da América pelos portugueses. A própria cristalização de frutas, nalguns casos com frutos que as viagens haviam trazido do Novo Mundo, como a abóbora, espalhava-se pela Ásia ou África, sendo Bengala um centro de distribuição, enquanto, por exemplo, o tamarindo caramelizado era enviado para a Europa e Américas.
Boileau mostra ainda como bolos, bolachas, pastéis e sobremesas com origens nas tradições da doçaria conventual portuguesa, feitos da abundância de ovos e açúcar, se tornaram um sucesso em toda a Ásia, sendo uma total novidade, até porque os ovos eram considerados impuros e impróprios para consumo humano, sendo evitados na Índia hindu. Os maçapões eram levados nos navios portugueses para servir os oficiais, mas também para aliciar os bons ofícios dos chefes com os quais esperavam estabelecer acordos durante as viagens. Depois foram adaptados localmente e, em vez das amêndoas, passaram, por exemplo, a ser produzidos a partir do caju, que havia sido introduzido na Índia (e noutras regiões orientais) vindo do Brasil.
Estes doces, tartes, filhoses, rosquilhas, queijadas, pastéis de nata, muitas vezes adaptados ao gosto e produtos locais, nasceram em grande medida associados a festividades religiosas, o que terá feito com que subsistissem ao longo de séculos com muito poucas alterações. Como os portugueses, ao contrário de outros europeus, ficavam agradados com as apropriações culturais dos povos que conheciam, ao mesmo tempo que absorviam deles conhecimento e produtos, a culinária de fusão vingou por esse mundo até aos dias de hoje (motivo para outros textos). Os filhos dos casados, mestiços, tiveram liberdade para conciliar as práticas culinárias portuguesas com as locais, adotando novos produtos e dando largas à imaginação; outros viam com maus olhos essa atitude, que consideravam uma degradação do nobre espírito europeu. A verdade é que esta abordagem de integração e crioulização foi importante para a obtenção e conservação de novos alimentos, que se tornaram um dos pilares do sucesso das viagens marítimas e deram ao mundo uma capacidade alimentar que antes não existia. Apesar dos portugueses terem participado, como outros europeus, na hedionda escravatura, e terem imposto muitas vezes os seus interesses pela força, a evidência sugere fortemente que foram mais adaptativos, que se misturaram e, assim, misturaram culturas, com enorme impacte na sua alimentação e dos povos com que se cruzaram.
As viagens marítimas de meados do milénio anterior proporcionaram uma revolução da alimentação e na culinária mundial, que é fruto dos contributos não apenas portugueses, mas da sua mistura com os povos africanos, americanos e asiáticos. É essa doação simbiótica que quero sublinhar, porque, como diz o ditado popular, “o que é doce nunca amargou”.
Texto publicado em simultâneo no Diário de Aveiro e no Timor Post
Sugestões/comentários: angeloferreira@ua.pt