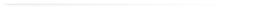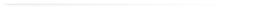Chegado ao mundo numa manjedoura na longínqua Lanús com os anos 60 a baterem à porta, Diego Armando Maradona havia de tornar-se mais conhecido que os Beatles. Na hora de esmiuçar o legado do mais marcante futebolista da história da humanidade, muitos têm proposto que Maradona era um, e o Diego, outro. Equivocam-se grandemente. Diego Armando Maradona era de facto uma trindade, santíssima e indivisível, incompreensível se não na sua totalidade.
Um deus imperfeito como os outros, baixinho e até barrigudo, o Pibe tomou de assalto o imaginário de tantos outros “pibes” que, como eu, teríamos entre 10 e 15 anos de idade no período entalado entre os mundiais de futebol de 1982 e de 1990. Chega ao velho mundo via Barcelona, mas é em Nápoles que deixa as pegadas mais fundas na praia do futebol europeu. Num clube da Terceira Itália, Diego chegou, jogou, e venceu – e deu a vencer, a um emblema que nunca nada havia ganho e que nada voltou a ganhar desde então.
Em 1986 viaja para o México com a seleção do seu país, na companhia de uma rapaziada mais ou menos desconhecida que dava uns pontapés na bola lá pelas pampas, em representação de um povo que já não poderia chamar suas às Malvinas e que ainda guardava fresca na memória uma outra guerra, à que chamaram “Suja” – conspurcada pelos voos de um Condor vil e despudorado.
Todos lhe perdoaram a mão de deus, excepto os britânicos, a quem ainda se lhes nota a baba e o ranho resequidos nas suas imperiais faces pálidas. Quatro minutos depois, fintou os súbditos de sua majestade um a um, e mais não driblou porque as redes do Shilton marcavam o fim da linha, e a Argentina havia chegado ao apeadeiro da vitória nos quartos-de-final. A vingança servia-se quentinha, abrasada pelo verão mexicano e pelo calor do público que abarrotava o Azteca nessa memorável tarde de Junho.
Dias depois, já na final do torneio, é de Diego a assitência para a vitória argentina frente a uns bávaros arrongantemente mecânicos, mas que se haviam de desforrar do ultraje quarto anos depois, também na final. Nas meias-finais desse mundial de 1990, haviam ditado os caprichos do destino que a mãe biólogica de Diego desse de frente com a sua mãe adoptiva, num embate que levou meia Nápoles a repensar o seu papel no seio da República Italiana – que por sinal acolhia o evento. O combate seria até à morte, ou à eliminação, que vai dar ao mesmo. Diego e companhia fizeram o que lhes competia, e não mandaram os italianos para casa porque em casa já eles estavam – mas deram-lhes a oportunidade de assitir ao resto da competição não ao vivo, mas ainda assim a cores, desde o conforto dos seus sofás. Acto contínuo, o profeta acaba condenado ao crucifixo pelo mesmo povo que o havia triunfalmente celebrado na jerusalém napolitana em muitos domingos de ramos e bandeiras azuis. A via crucis seria longa e tortuosa para o filho agora abastardado de Nápoles, e é o mágico pó branco que promete ajudar o profeta a esquecer o seu martírio.
Mas o que diferencia Diego de outros que apesar de tudo conquistaram um número superior de títulos, marcam mais golos, recolhem mais patrocínios, ganham mais dinheiro? A diferença está em que no princípio e no fim era o Diego, e o Diego estava com o povo, e o Diego era o povo. O Diego era um dos nossos. O Diego, qual demiurgo, caminhou lado a lado com o mais comum dos mortais, mas ostentando uma aura de talento que lhe permitia jogar practicamente sozinho, carregando às costas equipas medíocres que empurrava para vitórias improváveis.
E nesse aspecto, o único que importa verdadeiramente, Diego é inigualável. O Cristiano, por exemplo, parece ter sido raptado por extra terrestres, que o terão injectado com o ADN dos seus melhores atletas; o Lionel já terá nascido assim como é, na galáxia distante de onde veio. Juntos acumulam recordes, prémios e distinções; arrebatam bolas, botas e medalhas, sejam de ouro, prata, ou outros materiais preciosos; recebem galardões de todo o tipo, galanteios, vénias e condecorações; são idolatrados em eventos de fraque e muito lustre e brilhantina, fruto de muito se pavonearem em Ligas Milionárias em representação de clubes também eles milionários,ao lado de companheiroas de equipa quase tão bons como eles.
Mas não são Diego Maradona. Diego carregou a cruz de um estrelado desmedido, em tempos em que não se falava de agentes, advogados, representantes ou outras sangessugas do futebol que hoje em dia seguram as seus activos à terra em proveito abundante e mútuo, numa indústria em que o dinheiro está muito acima do desporto. Diego estava do nosso lado, e para Diego o mais importante era rechear o nosso imaginário colectivo de futebol espectáculo, no seu estado puro. Diego ousou até em várias ocasiões, oh insolência suprema, denunciar publicamente os vendilhões do templo do futebol, os senhores da FIFA e da UEFA, que sistemática e abjectamente subjugam o futebol aos imperativos do lucro. Os mesmos senhores que desdenhavam a amizade que o antigo astro entabulara com algumas personalidades políticas, às quais acusavam, os hipócritas, de tirania e opressão. É por estas e por outras que Diego era um dos nossos, e todos trazemos um pouco de Diego connosco na alma, uma réstia de esperança num meio desapiedado e implacável, muito distante desse do futebol de pé descalço, balizas improvisadas e bolas de pano. Um mundo que foi nosso e de Diego. E por isso todos somos Diego.
Como dizia um desses seus amigos, um cubano, a história o absolverá – no seu caso não das imperfeições que em si próprio reconhecia, mas de nos ter deixado tão cedo.