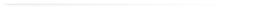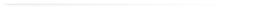O senhor Faria encostou o rádio portátil ao ouvido. Mais proeminentes, as linhas da testa alongaram-se em vínculos de apreensão.
- Que se passa?
Fez um gesto com a mão a pedir um momento. Muito concentrado, os seus olhos, escuros, ganharam uma enigmática dimensão.
- Os militares fizeram uma revolução em Portugal!
Essa imagem ficou simbolicamente gravada como a primeira que me recorda o 25 de Abril: a de um homem em África tocado por uma notícia que mudava a História, enquanto vogava à distância o fulgor de um merengue.
Depois a sua expressão grave, de quem se via numa encruzilhada. Quando falou, na sua voz convergia uma latente página de ambiguidades. Eram, no fundo, palavras de susto e júbilo e que tentavam descodificar uma realidade desconhecida e as suas consequências. Como se algo de muito subtil, enigmático e trágico, belo e promissor, se juntasse numa semântica sem possível tradução. São nesses labirintos, enfim, que a alma e a mente se desencontram. Não é viável uma forma de diálogo e consenso quando se tenta perspetivar o futuro, que é de resto um filme baseado num guião de circunstâncias. O senhor Faria sabia isso: que não se pode remendar no vento os rasgados tecidos de um enigma. A verdade, porém, é que a notícia propagou-se, célere, por todo o lado – jornais, rádio, e de boca em boca. A Revolução de 25 de Abril representava o fim do regime fascista e o pesadelo da Guerra Colonial. Júbilo e otimismo eram evidentes por todo o lado. Alguma apreensão também. Estávamos em África e tudo podia acontecer.
Com 19 anos completos, e alistado para cumprir o serviço militar obrigatório, esperava, expectante e ansioso, a minha vez. Seria que o novo regime político em Portugal implementaria uma nova estrutura militar, etnicamente mista, e independente dos três movimentos – UNITA, MPLA e FNLA – bem como a desmilitarização destes? Nesta perspetiva, o novo exército estaria sob a legítima tutela do primeiro Governo angolano. Afinal, a Guerra Colonial tinha acabado.
Apresentei-me no quartel, em Janeiro de 1975, com a guia de incorporação.
Por trás do guiché, sisudo, e investido com a autoridade ancestral do cargo, o sargento de serviço pegou no documento.
- Você é angolano, não pode servir no exército português. Pode-se ir embora.
Assim, literalmente.
Meti o papel no bolso e flutuei em incredulidade enquanto voltava à mota. Nesse ano de expectativa, e não obstante o rutilar das utopias que assaltavam o entusiasmo da juventude, foi-se instalando, sustentado pelos graves acontecimentos de violência e crescente incompatibilidade política entre os movimentos de libertação, um incontornável sentimento de vulnerabilidade, descrença e frustração relativamente ao país que, por fim, se libertava do garrote colonial. Foi-se-me tornando aparente a realidade de um destino igual ao daqueles que, aos milhares, começavam a encaixotar as suas vidas. Perdiam-se nos céus em voos (designados de pontes aéreas) febris, no mar, ou em perigosas odisseias por terra para um futuro incerto na Europa ou noutro destino qualquer no mundo.
Entretanto, em Portugal, o clima político passava, como era previsível, por uma fase de preocupante instabilidade. Para os que viviam em África, e sujeitos às intempéries dos tempos, a descolonização apresentava os contornos de um suicídio político-social. O caos. Infelizmente, foi o que sucedeu.
Por sua vez, os movimentos de libertação armam-se com urgência. Os conflitos entre eles recrudesciam. Até que se generalizaram numa guerra civil devastadora, não obstante os Acordos de Alvor, em 15 de Janeiro de 1975, visando a implementação de um governo de transição composto por elementos dos três movimentos. Apesar dessa badalada cimeira, a população branca via o futuro com desconfiança. Infelizmente, a realidade veio ao encontro dos seus receios e o embate foi catastrófico.
Dois meses antes da Independência, a 11 de Novembro de 1975, saí de Angola. Fui transitoriamente para outro país africano, a então Rodésia que tinha Ian Smith como primeiro-ministro.
A situação na Rodésia era complexa. O governo de minoria branca, visto como ilegal e sancionado pelas Nações Unidas através da Resolução 216 (1965)1, bem como pelo Reino Unido, por motivo da sua independência unilateral e que teve lugar em 11 de Novembro de 1965, enfrentava uma guerrilha repartida por dois movimentos armados – ZANU (Zimbabwe African National Union) e ZAPU (Zimbabwe African People’s Union).
Filho de um escocês que se radicou na Rodésia em 1898, Ian Smith nasceu no Distrito de Shurugwi, Midlands, Rodésia, em 1919. Combativo e resiliente, só viria a capitular perante o escalar da guerra e das sanções económicas internacionais. Em 1997 Ian Smith publicou as suas memórias num livro cujo título é Bitter Harvest: The Great Betrayal. Considerado hoje uma raridade bibliográfica, encontrei exemplares à venda na Amazon, eBay e noutras páginas na Internet a preços exorbitantes. Um deles atingia os 655.93 dólares americanos!
Smith, já avançado na idade e retirado da política (foi primeiro-ministro durante 15 anos – 1964-1979 – viria a mudar-se para a África do Sul em busca de tratamento médico. Aí faleceu, a 28 de Dezembro de 2007, aos 88 anos.
Robert Mugabe, inteligente e culto, foi o seu sucessor. O regime de Ian Smith teve-o sob prisão durante 10 anos, acusado de incitação contra o Governo. Só quando Mugabe tomou posse como primeiro-ministro a Rodésia viu a sua independência reconhecida internacionalmente, passando a designar-se, a 18 de Abril de 1980, por Zimbabué.
A sua liderança repartiu-se em duas fases: a primeira, de 1980 a 1987, como primeiro-ministro; depois no cargo de presidente, entre 1987 a 2017, num total de 37 anos de governação manchada de acusações: desde nepotismo a furioso racismo, tribalismo, perseguição violenta aos opositores políticos, expropriação de terras aos fazendeiros brancos de modo contundente, bem como dos seus trabalhadores negros, assassinatos e incúria económica. Durante a sua governação, por exemplo, o país alcançou inacreditáveis valores de inflação que chegaram a atingir os 9000% ao mês, segundo dados não-oficiais. Martin Meredith, jornalista britânico, faz um retrato pouco lisonjeiro do ditador no seu livro Our votes, our guns, (Robert Mugabe and The Tragedy of Zimbabwe) descrevendo as consequências desastrosas que resultaram do reinado de Mugabe.
Contemporâneo de Nelson Mandela2 (um líder como nenhum em qualquer tempo histórico, conciliatório, humilde e de uma bondade, perspicácia, visão, abrangência política e rácica invulgares, apesar de tudo por que passou sob o regime racista e repressivo do apartheid), Mugabe, ao contrário deste, só abandonou o poder através de um golpe militar, em 2017. Tinha 93 anos.
Nos 50 anos da Revolução de Abril não deixo de refletir no seu impacto nas então designadas Províncias Ultramarinas, mormente em Angola, e no futuro político e histórico de alguns países africanos, nos casos do Zimbabué e da África do Sul, geograficamente próximos. Por arrasto, a descolonização de Angola viria a influenciar o destino desses países naquilo que concerne à sua estrutura política, resultando em mudanças radicais – a transferência de poder no Zimbabué para uma maioria negra e, no caso sul-africano, libertando a Namíbia, sob o seu domínio desde 1915, outorgando-lhe a independência em 21 de Março de 1990. E, finalmente, a abolição do apartheid.
O fim do apartheid deu lugar a eleições nas quais Nelson Mandela sairia vencedor. Ele foi o primeiro presidente negro no país, aos 75 anos, a 10 de Maio de 1994, após 27 anos de cativeiro. Faleceu em Novembro de 2013. Nelson Mandela e o Presidente de FW de Klerk receberam o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços na abolição do apartheid.
A objetividade não me permite separar o 25 de Abril (sobretudo no caso angolano) de uma descolonização com muitas e graves lacunas estruturais, e que resultou numa lamentável e devastadora guerra que se prolongou por 27 anos, e um êxodo, nas mais precárias das condições, da sua população branca. Os que partiram levaram nas costas as ardentes cinzas da História. Os que ficaram (ou por convicção ou porque não tinham meios com que sair) enfrentavam um país jovem e desprovido de quadros, entregues à precariedade do caos económico, à viciada infiltração estrangeira num esforço bélico sem precedentes (África do Sul, Rússia, Cuba, China, etc), e um quotidiano de guerra e prostração ideológica, vítimas também eles das fendas que se abriram nas suas vidas enquanto incendiadas paixões corrompiam mentalidades e abriam caminho a prosperidades ilegítimas e corrupção escandalosa, deixando a nu um disfarce paliativo em que os vícios de alguns e o oportunismo de outros acabaram numa intenção de escombros e na inevitável finitude da esperança.
A morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, em combate, a 22 de Fevereiro de 2002 na região do Lucusse, levou ao fim da guerra civil, declarada oficialmente em 4 de Abril do mesmo ano. Jonas Savimbi foi talvez um dos mais carismáticos líderes africanos no que concerne à sua capacidade de oratória. Sepultado em Luena, só em 2019 foram exumados os seus restos mortais com vista a ter um funeral condigno.
É curioso notar que após a sua morte, Angola e os Estados Unidos firmaram, dois anos depois, um acordo no qual Angola beneficiaria de um empréstimo no valor de 2 biliões de dólares, destinados à exploração do petróleo. Atualmente, a China é um dos maiores parceiros comerciais de Angola nos vários domínios da economia.
Ao nível pessoal, o impacto do 25 de Abril deixa-me sempre numa fronteira ambígua entre dois sentimentos: um de perda e o outro de regozijo.
Sair de Angola foi como abandonar um incêndio por falta de recursos, deixar a infância no meio do lume, a juventude, a alta música das utopias e o insano amor por África. O mundo, aquele onde eu escrevia um poema no chão ao sair de casa, fechou-se como as pesadas cortinas de um grande, imenso teatro às escuras. Não invoco aqui os amargos misticismos da nostalgia, mas o desassombro ante a inflexível fixação do tempo, inenarrável desafio do qual nunca recobramos as perdas. Ficou-me, enfim, uma incontornável sensação de vazio, como quem se vê afastado às chicotadas de um sonho pueril.
Portugal festeja, e deve festejar o espírito que o levou a plantar nos ventos dos tempos um cravo vermelho na História. Sempre me foi cara a convicção de que a democracia é um direito fundamental e inalienável do indivíduo. No entanto, devemos atentar neste facto: uma democracia exige balanço e solidez ética, transparência e renovação de mentalidades, integridade e sem afetações e manobras do tribalismo partidário que nos remete para interesses de clube político em detrimento do país, e a noção essencial de que os direitos inferem igualmente obrigações e inerentes responsabilidades. Uma delas é a de estarmos informados e vigilantes, uma obrigação que nos cabe a todos. Sobretudo agora que a retórica e o oportunismo se tornaram numa epidemia universal. Assim como a corrupção nas suas múltiplas, subterrâneas formas.